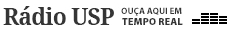Prática crescente em áreas urbanas restringe o uso de espaços coletivos e reforça desigualdades

Foto: Tdorante10/Wikimedia

Jeferson Cristiano Tavares – Foto: Arquivo pessoal
A presença de grades em praças, pedras sob viadutos e divisórias em bancos públicos é cada vez mais notada nas cidades brasileiras. Esses elementos não são apenas detalhes arquitetônicos, mas fazem parte de uma estratégia chamada arquitetura hostil, usada para restringir o uso de espaços urbanos. Longe de ser neutra, essa prática acaba por reforçar desigualdades sociais ao limitar a permanência e a circulação justamente de pessoas em situação de rua, idosos e pessoas com deficiência.
Para o professor Jeferson Cristiano Tavares, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Carlos (IAU-USP), a arquitetura hostil é a distorção da função do espaço urbano. “São dispositivos cuja função está deturpada para excluir ou segregar pessoas. Isso vai contra a ideia do espaço público como lugar de encontros, de debates e de aprendizado coletivo”, explica.
Tavares enfatiza que a arquitetura hostil revela como o espaço urbano é politizado e não é neutro. “Cada banco com divisória ou cada espaço inacessível é um sinal de alguém pensando quem ali pode ou não estar.”
Segundo o professor, o planejamento urbano deve incorporar não só normas de acessibilidade, mas uma escuta constante da população para saber o que pessoas em situação de rua, pessoas idosas, pessoas com deficiência de fato necessitam. “Enfrentar a arquitetura hostil é mais do que evitar o desconforto urbano: é combater a segregação social. Ela é a evidência de uma violência contra as pessoas e de tudo o que a cidade não deve ser. Precisamos devolver as praças, as calçadas e as ruas para todos, e não para um único grupo vinculado ao poder ou à valorização imobiliária.”

Sabrina da Silva Oliveira – Foto: Arquivo pessoal
Já a assistente social e supervisora técnica de campo diurno no Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), Sabrina da Silva Oliveira, afirma que a arquitetura hostil não resolve os problemas, ela só muda de lugar. ‘Ela reforça a exclusão, porque dificulta que pessoas utilizem os espaços de forma digna. Isso nada mais é do que uma prática higienista.”
A exclusão se materializa de diferentes formas: objetos pontiagudos que impedem o descanso, ausência de rampas que bloqueiam a circulação de cadeirantes, ou a falta de banheiros e bebedouros públicos. Para Sabrina, o contraste é evidente: “Enquanto a arquitetura hostil cria barreiras, o SEAS trabalha justamente no sentido oposto, para acolher essas pessoas, entender as demandas delas e encaminhá-las para a rede socioassistencial.”
Em muitas cidades, medidas assim são justificadas como soluções estéticas ou funcionais, mas, na prática, dificultam a vida de quem mais precisa. Segundo Sabrina, quando faltam políticas habitacionais e sociais eficazes, as pessoas acabam usando a rua como única alternativa de moradia e é nesse cenário que surgem medidas de exclusão. “Aumenta a dificuldade de quem está em situação de rua, reduzindo locais de descanso e proteção. Para idosos e pessoas com deficiência, cria barreiras que limitam a circulação e o uso da cidade”, aponta.
Medidas simples também fariam diferença, lembra Sabrina: bancos mais confortáveis, calçadas acessíveis, banheiros públicos, bebedouros e espaços iluminados. “O importante é pensar a cidade para atender a todos, e não afastar. Quando os espaços são acolhedores, nosso trabalho de abordagem se torna muito mais efetivo.”
No fundo, a crítica vai além da arquitetura. Como ressalta Sabrina, a hostilidade no espaço urbano “só aparece porque falta resposta mais humana para os problemas sociais”. Já Tavares reforça que a função da infraestrutura urbana é clara: “Proporcionar acesso seguro, confortável e inclusivo aos serviços públicos. Uma cidade democrática é aquela que acolhe sua diversidade e não que a rejeita.”
Legislação
No Brasil já existe lei proibindo a arquitetura hostil, a 14.489/2022, também chamada Lei Padre Júlio Lancellotti, promulgada em 21 de dezembro de 2022. Ela proíbe o emprego de técnicas construtivas hostis em espaços livres de uso público, ou seja, impede estruturas, equipamentos ou materiais para afastar as pessoas, sejam moradores de rua, jovens ou idosos, de praças, calçadas, jardins ou viadutos.
Apesar da força dessa nova norma, há caminhos possíveis além da legislação. “Experiências internacionais como o programa Housing First, implementado em países como Finlândia e Portugal, priorizam garantir moradia antes de qualquer outra intervenção social” diz a assistente social.
Por Susana Oliveira – Estagiária sob supervisão de Rose Talamone e Gabriel Soares – Jornal da USP